Terceiro texto sobre o medo do modo com que me relaciono com a comida. Os textos anteriores podem ser encontrados aqui e aqui.
*=*=*=*=*=*
 O balão, ao longe, robusto e frágil, sobe. Subindo, subindo, subindo. Uma Alice ao inverso. Ele sai do país das Maravilhas e vai para o país da distância. Do túnel para o ar. Quando se toma distância, as coisas parecem pequenas, insignificantes, e não podem mais nos ferir. Elas ainda existem, elas ainda estão lá, mas o balão não está. Mesmo pequenas, e quase insignificantes, as coisas ainda podem nos ferir, porque o passado nunca está no passado. Está no cheiro que ficou impregnado no moletom. Está no formato dos dentes que ficou no pedaço de pizza congelada. Está no copo com o fundo sujo de café.
O balão, ao longe, robusto e frágil, sobe. Subindo, subindo, subindo. Uma Alice ao inverso. Ele sai do país das Maravilhas e vai para o país da distância. Do túnel para o ar. Quando se toma distância, as coisas parecem pequenas, insignificantes, e não podem mais nos ferir. Elas ainda existem, elas ainda estão lá, mas o balão não está. Mesmo pequenas, e quase insignificantes, as coisas ainda podem nos ferir, porque o passado nunca está no passado. Está no cheiro que ficou impregnado no moletom. Está no formato dos dentes que ficou no pedaço de pizza congelada. Está no copo com o fundo sujo de café.
Subindo, subindo, subindo, cheio de vento, cheio de nada, cheio do nada, longe de tudo, longe de todos. Subindo, subindo, subindo. Um Ícaro. Quanto mais sobe, mais o balão quer subir. Quanto mais sobe, mais perto do sol, mais perto de Deus, mais perto de cair, mais perto de Lúcifer. O passado o alcançou. As asas de Ícaro começam a derreter. As minhas lágrimas começam a cair. E o passado, que estava pequeno, quase inexistente, fica imenso, me pressiona, e eu tento me esconder. Corro para o meu quarto, pego o meu prato de macarrão com frango, sento no vão entre a cama e a parede, e como para não sofrer.
Eu, transmutada em balão, começo a pegar os pedaços do passado com formato de nuvens e tento engoli-los. Tento comer todas as nuvens, e quanto mais como, mais nuvens aparecem. E, quando coloco os pedaços de nuvem na boca, como algodão doce, eles diminuem, perdem consistência e, logo, desaparecem na boca. Eu não quero encarar as nuvens. Eu queria entender o passado, mas não quero enfrentá-lo. Ele, no entanto, me encara, me deixa intimidada, me deixa acuada. Eu como para me sentir maior do que o meu passado e, desse modo, impedir que ele me devore. Mas eu como e me sinto vazia, eu como para preencher um vazio que não se pode preencher.
De algum modo, internalizei a noção de que se eu for grande, se eu for imensa, eu vou me proteger, eu vou cuidar de mim, eu vou lutar por mim, vou tatuar flores nas cicatrizes internas, vou iluminar os lugares obscuros do meu interior. Eu como para sobreviver ao meu passado, mas isso me impede de ficar com os pés no presente. Eu sou Jonas dentro da baleia, mas como tudo quanto é alimento que vejo na esperança de, como as asas de Ícaro, passar do estado sólido para o líquido, romper as barreiras impostas pela baleia, e me juntar ao mar, e me tornar o mar. Mas Ícaro, ao cair no oceano, se afogou.
O que está dentro da baleia também está fora. Os medos que estão dentro da minha mente enquanto tento me refugiar dentro da baleia, continuarão lá quando eu for oceano. A casca do pão é, também, o miolo. Com algumas alterações, exposta a uma quantidade maior de raios solares, de olhares, exposta ao clima, e firme, sempre firme, até virar farelo de pão.
Não é amor pelo que está dentro, é culpa por ter abrido mão do interior por não conseguir encará-lo. É culpa por ter colocado o que estava dentro de mim em uma trouxa e mandado partir, no primeiro balão, para o céu. Mas o que estava no interior não foi embora, não foi arrancado. Como o miolo do pão, ficou em mim, para me lembrar de que foi rejeitado, para me lembrar de que eu reluto em aceitá-lo e, por isso, ele me controla, me leva para dentro da baleia. Estar dentro da baleia é como estar morta. Aceitar sair de dentro dela e ficar sobre ela, é compreendê-la como um barco, que me levará para a margem, para a ressurreição, para uma nova vida. Eu não quero ser o mar, eu não quero ser o ar, eu não quero ser a terra. Eu quero ser eu. Quero ser um “eu” que, como os balões, como as embarcações, é construção, é costura, e tece, com as linhas do passado, o futuro que transborda das margens do mundo para dentro de mim.
 Consigo me lembrar do cheiro de coisas que não como há anos. Consigo me lembrar da dormência que a Coca-Cola causava sempre que eu colocava um pedaço de frango, assado, na boca e, em seguida, bebia um gole desse refrigerante. O gás da Coca fazia com que a carne ficasse borbulhando, e isso adormecia a minha língua. Não bebo mais Coca-Cola, mas a minha boca ainda me adormece.
Consigo me lembrar do cheiro de coisas que não como há anos. Consigo me lembrar da dormência que a Coca-Cola causava sempre que eu colocava um pedaço de frango, assado, na boca e, em seguida, bebia um gole desse refrigerante. O gás da Coca fazia com que a carne ficasse borbulhando, e isso adormecia a minha língua. Não bebo mais Coca-Cola, mas a minha boca ainda me adormece.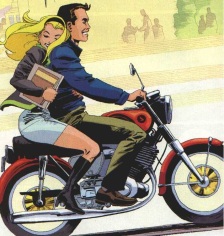 De tanto esperar passar, não aprendi a fazer passar. De tanto esperar pelo depois, desaprendi a aproveitar o agora. Eu ainda estou esperando. Eu ainda acho que acontecerá algo extraordinário. E acontecerá. O milagre do pão, não dos peixes. O sabor do pão, com casca e miolo. O vento no rosto, jogando as cascas de pão na roupa, e os farelos de pão, grudados ao casaco. A liberdade, ela acontecerá.
De tanto esperar passar, não aprendi a fazer passar. De tanto esperar pelo depois, desaprendi a aproveitar o agora. Eu ainda estou esperando. Eu ainda acho que acontecerá algo extraordinário. E acontecerá. O milagre do pão, não dos peixes. O sabor do pão, com casca e miolo. O vento no rosto, jogando as cascas de pão na roupa, e os farelos de pão, grudados ao casaco. A liberdade, ela acontecerá.





